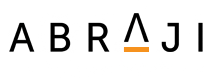- 10.07
- 2009
- 10:18
- -
Veteranos com fôlego de meninos são homenageados na cerimônia de abertura do congresso da Abraji
O 4º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo foi formalmente iniciado na noite de ontem, nove de julho, com uma cerimônia aberta ao público. A queda do obrigatoriedade do diploma de jornalismo, a apuração nos tempo da internet e a relação do jornalismo com o processo democrático permearam os discursos dos homenageados e da mesa. A cerimônia aconteceu na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo.
A presidente da Abraji, Angelina Nunes, falou da importância do intercâmbio de idéias e experiências entre os participantes. “Essa troca de energia é fantástica. É esse tipo de troca que a gente tem que ter. Explorem todo mundo que estiver falando lá na frente. Esta é uma oportunidade única”, disse. Segundo Angelina, o congresso foi organizado também com base em sugestões feitas na lista de e-mails da Abraji, da qual participam todos os associados.
Nivaldo Ferraz, coordenador do curso de Jornalismo da Anhembi Morumbi, falou do carinho que os jornalistas têm pela profissão e de seu papel no processo democrático. “Percebo uma evolução nas democracias da América Latina e ao redor do mundo. Muito dessa evolução depende dos esforços de jornalistas. Temos que lapidar o diamante chamado democracia. ”, disse.
Antônio Augusto Camargo, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, falou da recente queda da obrigatoriedade do diploma de jornalista. “Jornalismo é uma não profissão que pode ser executada por qualquer pessoa minimamente esclarecida, não tem nada de específico: é o que dizem os que aboliram o diploma. Acho que a função dos jornalistas agora é trabalhar para deixar claro quais são as especificidades da profissão”, disse.
A questão também foi tratada pelo repórter especial do jornal Valor Econômico Paulo Totti, um dos homenageados da noite. “Não sou diplomado em jornalismo e sempre achei que não é um diploma que faz bons jornalistas. Até eu ouvir de um ministro do STF que a necessidade do diploma foi abolida por uma questão de liberdade de expressão. Se ele tivesse apurado bem, já que agora juiz pode também ser jornalista, não diria esse tipo de bobagem”, disse.
Paulo Totti e o jornalista Lúcio Flávio Pinto, especializado em cobertura da Amazônia e editor do Jornal Pessoal, foram homenageados pela Abraji por suas contribuições extraordinárias ao jornalismo brasileiro. Ambos têm cerca de meio século de carreira como jornalistas e ainda atuam ativamente na profissão. “O que leva um profissional com mais de 40 anos de carreira a ir para a rua, a contar histórias? O que tem em comum um jornalista do Pará e o outro do Rio Grande do Sul? Motivação”, observou Angelina Nunes.
Lúcio Flávio Pinto não compareceu à cerimônia para receber sua placa de homenagem. Ele precisou permanecer em Belém (PA) para recorrer de um processo em que foi condenado em primeira instância. Lúcio foi representado pelo filho Lívio Cunha Pinto que lamentou a ausência do pai e se disse muito honrado em representá-lo. Lívio leu uma carta escrita por Lúcio Flávio, na qual o jornalista justifica sua ausência no congresso e reflete sobre a liberdade de imprensa no Brasil com base em suas experiências. Leia abaixo a íntegra da carta:
“Dois anos atrás eu devia ir a Nova York para receber um prêmio do Comitê de Proteção aos Jornalistas. Fui escolhido para a honraria como represente do continente americano, numa premiação que abrange todos os quatro continentes. À última, hora tive que mandar minha filha para me representar. Audiências na justiça do Pará, marcadas para a mesma época, não me permitiram me afastar de Belém.
Outras dessas “coincidências” aconteceram em vários momentos, como neste agora. Felizmente, tenho uma família numerosa, para os nossos padrões de classe média, e aqui fala em meu lugar outro filho, o Lívio. No sábado, estarei representado pelo mais novo, o Angelim. Espero não ter que continuar a aumentar a família, à maneira da Bíblia, para dar oportunidade a todos de falarem em meu nome para os colegas de profissão e todos os que se encontram reunidos em solenidades como esta.
Ela deveria ser simplesmente festiva. Um momento de trégua para saudarmos o mais longo período democrático em toda a nossa história de 120 anos da nossa república. Tão pouca república para democracia ainda menor. Há 24 anos não temos violações constitucionais. O recorde anterior, da Quarta República, fora de 19 anos. Mas estamos realmente na plenitude do estado democrático de direito? Temos, de fato, mais do que uma democracia formal? Ou estão nos entretendo com fogos de artifício de liberdade disparados aos céus, enquanto, cá embaixo, pisam nos nossos calos (ou num ponto mais sensível acima).
Tornei-me jornalista profissional quando a ditadura de 1964 tinha dois anos. Acompanhei de perto seus rastros até o seu fim, em 1985. Durante esse período, fui levado às barras dos tribunais apenas uma vez, enquadrado na terrível Lei de Segurança Nacional. Mas a Auditoria Militar de Belém desqualificou o suposto delito (de opinião) e a justiça comum, ao invés de me condenar, como queriam os perseguidores, reconheceu que eu cumpria meu dever de jornalista e me absolveu, com elogios.
De 1992 até o dia de hoje, no período de mais ampla democracia da história brasileira, já fui processado 33 vezes e condenado quatro. A quinta condenação me apanhou com um pé a caminho de São Paulo, nesta segunda-feira, e me derrubou da escada do avião. Tive que ficar em Belém para tratar da minha defesa contra a decisão do juiz da 4ª vara cível da capital paraense. Ele quer que eu pague 30 mil reais de indenização, mais juros e correção monetária, além de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitrou pelo máximo, de 20% do valor da causa (ou seja, seis mil reais). O juiz não ficou por aí: também me proibiu de voltar a falar de Romulo Maiorana pai, o fundador do maior império de comunicações do Norte do Brasil, afiliado à Rede Globo de Televisão, cuja memória eu teria ofendido com um artigo publicado no meu Jornal Pessoal. SE depender do juiz, não poderei mais falar não apenas do pai, que morreu em 1986, mas dos seus dois filhos, que propuseram a ação cível de indenização por dano moral, embora Ronaldo Maiorana e Romulo Maiorana Júnior não tenham feito tal pedido na peça inicial do processo. E me impôs a publicação de uma carta, que os dois nunca escreveram, como exercício do direito de resposta.
Depois da leitura da sentença, eu podia ir para o espelho da madrasta da Branca de Neve e me perguntar: sou mesmo um jornalista sério ou achincalho a honra alheia, como disse de mim o juiz Raimundo das Chagas Filho, usando essa expressão, tão pouco judiciosa? Meu jornal integra a imprensa marrom ou amarela? Falo do que não conheço? Informo sem apurar? Não tenho escrúpulos? Então, por que os senhores me homenageiam hoje? Estão consagrando um farsante?
Num dia como o de hoje, em 1997, eu estava ao lado do fórum romano. Era o primeiro cidadãos das Américas a receber o Colombe d’Oro per La Pace, um troféu até então distribuído apenas entre europeus, três deles ao meu lado naquele dia. Comigo, foi distinguido o deputado federal irlandês John Humme, de nome inspirador, que no ano seguinte receberia outro prêmio, o Nobel da Paz. Ao abrir a sessão, o senador Luigi Anderlini, presidente da instituição que criou o prêmio, destacou um fato inusitado: no auditório sentavam-se, vizinhos, pela primeira vez, os embaixadores da Inglaterra e da Irlanda do Norte, unidos no reconhecimento pela luta do deputado Humme em favor da paz naquela conturbada região. O público, emocionado, aplaudiu em pé.
O embaixador brasileiro foi o único a não levar o calor oficial ao representante do seu país. Um funcionário da embaixada tentou se explicar, meio sem jeito. O embaixador Pires do Rio estava ocupado demais. Mas, ao testemunhar a relevância da solenidade, quis consertar, me convidando para almoçar no belíssimo Palácio Pamphili. Não fui, é claro. Soube depois que o embaixador se informara com o Itamaraty sobre a minha pessoa e recebera recomendação de fazer-se ausente. Eu não era confiável ao governo do ex-professor Fernando Henrique Cardoso, nosso príncipe sociólogo, embora os italianos me considerassem em condições de receber a honrosa distinção do prêmio, quebrando o unitarismo europeu.
Continuo a não ser confiável ao poder estabelecido. Tenho o indesejado mau hábito de também não confiar nos poderosos. Só que vou conferir o que eles fazem, a partir da premissa de que fazem mais por si do que pelo povo, que, de alguma maneira, lhes deu o poder que usam – e do qual, em regra, abusam. Tenho feito isso desde que comecei no jornalismo, 43 anos atrás. Busco a verdade, aquela verdade que é relevante para os cidadãos, os mesmos cidadãos que também me conferiram um tantinho de poder, do qual, apesar disso, jamais abusei.
Meu poder deriva da minha inteligência, maior ou menor, o mais democrático dos poderes. O que sei digo por inteiro aos que me lêem ou ouvem. Mas se o que eu disser não corresponder à verdade, ou à sua aproximação mais próxima (se me permitem o pleonasmo), podem me dizer, da forma que acharem conveniente, que estou errado. E eu assumirei a nova verdade. Desde, é claro, que seja convencido sobre essa verdade.
Há quase 22 anos meu Jornal Pessoal tem sido um espaço da verdade. Espaço modesto, artesanal, paupérrimo, apesar de o juiz, abusando da má fé, ter atribuído ao meu quinzenário uma riqueza tal, em condições de poder arcar com o valor indenizatório. Esse valor equivale a um ano e meio de faturamento bruto do Jornal Pessoal. Se a sentença fosse aplicada a O Liberal, valeria, no mínimo, 30 milhões de reais. Desse tamanho, seria um golpe de morte, tanto ao jornal rico quanto ao jornal pobre, o que dá uma medida mais exata da intenção dos promotores da ação e do juiz que a acolheu, de forma tão vergonhosa, desonrosa para a instituição pública.
O Jornal Pessoal tem apenas doze páginas, em formato ofício. Não usa cor nem fotografia. É uma massa de texto. Por tão pouco, custa relativamente caro, três reais. O preço não é suficiente porque sua tiragem é de apenas dois mil exemplares. Mas não é suficiente principalmente porque o jornal nunca aceitou publicidade, oficial ou privada, explícita ou disfarçada. Nem compadrio, nem nepotismo. Sua diretriz é: não aceitamos embromação. Pouco importa se quem fale seja o governador, o empresário, o dono da comunicação ou a bela atriz: tudo que disserem e fizerem será checado, comparado, submetido a teste de consistência e interpretado. Se não gostarem do produto final, podem se manifestar. O Jornal Pessoal é das raríssimas publicações a reproduzir todas as cartas que lhe são enviadas, na íntegra, mesmo aquelas que ofendem o único funcionário da empresa, que sou eu. Mesmo que a ofensa venha na forma de palavrões, como já aconteceu. A carta sai, sempre.
Pequeno, circulando apenas em bancas e livrarias, sem glamour, sem capital, ainda assim o Jornal Pessoal repercute. Outro dia mereceu matéria de página inteira no Los Angeles Times, com chamada de capa. Está no clipping de empresas poderosas, com a Vale do Rio Doce, que é tema constante das suas páginas, sem nunca ter sido desmentido. O Jornal Pessoal erra, mas até agora só errou em pequenas coisas, na maioria das vezes pelo excesso de trabalho do seu redator solitário, que tirou suas últimas férias em 1984, para escrever, nos Estados Unidos, um livro contra um dos ídolos do país naquela época, o milionário Daniel Ludwig, que foi dono de um império na Amazônia, o Projeto Jari.
O Jornal Pessoal nunca errou sobre o essencial. E muito menos errou deliberadamente. Ele se arrisca sempre, tentando encontrar a verdade, sobretudo a última verdade, a mais recente, a mais importante, a mais incômoda, aquela que não pode faltar na agenda dos cidadãos, para que eles saibam o que lhes interessa e decidam da melhor maneira possível. Mirando o cotidiano, façam a história. Mesmo que para isso o jornal precise comprar brigas, e brigas enormes e extensas, com aqueles que gostam de manipular a sociedade e fazer de sua vontade e de suas suscetibilidades e veleidades fontes de arbítrio, da verdade manipulada.
A quantidade de processos e de condenações que acumulo desde 1992 é um indicador da razão da existência do jornal, que é uma razão essencial, a exigir que a democracia seja mais do que um retrato decorativo na parede da república, exclusivista e excludente. Mais sintomático ainda é o fato de que dos 33 processos que sofri, 19 sejam da autoria dos donos do grupo Liberal, que se consideravam os donos da informação no Pará, senhores de baraço e cutelo da verdade utilitária. Nunca um jornalista foi tão perseguido por uma empresa jornalística, acho eu.
Na origem dessa corporação está um cidadão filho de italianos, Romulo Maiorana, que foi meu amigo e que jamais faria o que seus sucessores estão fazendo, apesar de nossas grandes diferenças, que provocaram certos atritos durante os 13 anos em que trabalhei no jornal dele, ao mesmo tempo em que era correspondente de O Estado de S. Paulo em Belém. Como a Itália é meu segundo país, por afetividade, tenho-a sempre na memória. Ao receber o prêmio em Roma, recitei trecho da Divina Comédia, de Dante, de onde tirei uma expressão para definir a Amazônia pelo que ela se tornou com sua ocupação irracional e destrutiva: a selva selvaggia aspra e forte. No grande poema me inspiro para definir também o que é que pretendem meus perseguidores, aliados a esta instância do poder que precisa da nossa atenção, fiscalização e reflexão: a justiça.
Na entrada do inferno, Dante vislumbrou uma advertência:
“Deixai a esperança, vós que entrais”.
É a placa que os donos do poder querem impor a Belém, ao Pará e à Amazônia, da qual pretendem se assenhorear pelo exercício da violência, da coação e da irracionalidade. Por isso tenho sido tão processado e tão perseguido, a ponto de não poder estar aqui, como pretendia, entre pares e amigos. Mas esses potentados não conseguirão o que pretendem. A verdade nos libertará. Como antes. E como sempre.
Muito obrigado pela generosa lembrança do meu nome e piedosa paciência com as minhas palavras”.