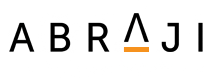- 30.06
- 2004
- 13:41
- MarceloSoares
Leia palestra feita por Chico Otavio em Minas Gerais
THALES ALVES - colaborador
 O vice-presidente da Abraji, Chico Otavio, falou a cerca de 40 jornalistas e estudantes mineiros em Belo Horizonte, representando a Abraji num seminário de jornalismo investigativo promovido pelo Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, no dia 26 de junho. Em oito horas de seminário, ele abordou três temas: o conceito de reportagem investigativa, ética e a indústria do dano moral e o direito de acesso às informações públicas. O evento seguiu no domingo, 27, com palestra do jornalista mineiro José Cleves da Silva.
O vice-presidente da Abraji, Chico Otavio, falou a cerca de 40 jornalistas e estudantes mineiros em Belo Horizonte, representando a Abraji num seminário de jornalismo investigativo promovido pelo Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, no dia 26 de junho. Em oito horas de seminário, ele abordou três temas: o conceito de reportagem investigativa, ética e a indústria do dano moral e o direito de acesso às informações públicas. O evento seguiu no domingo, 27, com palestra do jornalista mineiro José Cleves da Silva.
Chico Otavio comentou como foram apuradas algumas de suas reportagens, como “O Império da Boa Vontade”, sobre irregularidades no uso de doações recebidas pela ONG religiosa Legião da Boa Vontade. A reportagem venceu o prêmio Esso em 2001 e foi escrita em parceria com Rubens Valente. Otavio convidou o sociólogo Cláudio Beato, coordenador geral do Centro de Estudo de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, para fazer um debate sobre como são apuradas as estatísticas de criminalidade em Belo Horizonte.
Leia a seguir alguns trechos da palestra:
Há pelo menos 50 anos, quando o repórteres Mário de Morais e Ubiratan de Lemos ganharam o primeiro Prêmio Esso ao acompanhar as famílias que migravam para o Sudeste nos paus-de-arara, em "O Cruzeiro", as grandes reportagens estão presentes na mídia brasileira. Mas o gênero reportagem investigativa só se tornou popular no Brasil com a cobertura do escândalo envolvendo o presidente Collor, em 1992. Aprendemos que todo o jornalismo tem de ser investigativo, ou seja, bem-apurado e crítico. Há quem diga que até mesmo a tarefa de apurar um tijolinho (pequena nota sobre a programação de filmes de uma sala de cinema, por exemplo) é jornalismo investigativo. Porém, há diferenças. Esta expressão, já consagrada em vários países, é mais usada para distinguir as reportagens de mais fôlego, que exigem maiores investimentos na apuração, do noticiário rotineiro.
A chamada reportagem investigativa faz diferença porque exige, geralmente, tempo, investimento, paciência e interesse na pesquisa. O período de apuração é dedicado à entrevistas em on e off com fontes diversas, levantamento de documentos em arquivos e cartórios, observação direta e checagem e rechecagem de dados. Este pequeno seminário, mais do que dar um panorama geral do jornalismo investigativo e as táticas que permitem aos jornalistas revelar os segredos do governo ou dos negócios, traz o testemunho de um apaixonado pelo gênero e suas estratégias para convencer o editor a apostar num determinado projeto.
Embora possa e deva ser aplicada em todos os assuntos que interessam aos leitores, a reportagem investigativa vem mostrando maior força, utilidade e repercussão quando se dedica à fiscalização do uso de recursos públicos e questiona a eficácia das políticas de governo no Brasil. No Brasil, há uma demanda para tal prática. Organizações como a Transparência Brasil mostram que o país enfrenta graves problemas no campo da corrupção. De acordo com pesquisa realizada pela entidade em 2003, cerca de 70% das empresas ouvidas afirmam gastar até 3% do seu faturamento com o pagamento de propina. Para 25%, este custo está em torno de 5% a 10%. Metade das empresas da amostra participa ou já tentou participar de licitações públicas. Destas, 62% relatam já terem sido sujeitas a pedidos de propina relativas a algum aspecto do certame ou do contrato.
Neste aspecto, a imprensa tem ocupado um papel central na luta pela transparência e pela ética, com reportagens que mostram o desvio de verbas públicas, nepotismo, improbidade administrativa, superfaturamentos e fraudes eleitorais. Mas o caminho não é fácil. A maioria dos repórteres aprende na prática a caminhar por este campo minado. Como alerta o jornalista Marcelo Beraba, presidente da Abraji, uma análise do jornalismo que produzimos a partir do início dos anos 80, quando se inicia a transição para a democracia, mostra que hoje apuramos melhor, somos mais precisos e que ampliamos nosso campo de fiscalização, estendendo a cobertura crítica a áreas antes reservadas apenas ao entretenimento, como futebol e cultura. Mas ainda somos reféns de relatórios malfeitos e de informações manipuladas, produzidas nas repartições policiais, nos ministérios públicos e nos gabinetes de políticos.
Fora isso, os jornais têm tido dificuldade para investir em equipes experientes e que precisam de tempo e recursos para produzir trabalhos de qualidade e diferenciados. Como vocês devem saber, a realidade nas redações conspira contra a reportagem investigativa: equipes enxutas, rotinas exaustivas, com mais de uma pauta para ser cumprida por dia, telefone transformado no principal meio de apuração, matérias que repetem aquilo que as emissoras de TV já divulgaram, orçamentos apertados fazem parte desta triste realidade As inovações técnicas, em busca de uma ampla divulgação, influem na tendência à uniformidade. Ficou tudo muito igual. Até no cotidiano de uma redação, isso pode ser visto. Nossos editores acumulam muitas tarefas técnicas e gerenciais. Portanto, não há tanto tempo a perder no contato com os repórteres.
Um colega, Rubens Valente (Folha), costuma dizer que, se dependesse da vontade do editor, ele teria uma placa luminosa permanentemente acesa em sua mesa, onde estaria escrito "não me tragam problemas". Além disso, também estamos pressionados pelo jornalismo em "tempo real", que mudou definitivamente as rotinas e prioridades das redações ao incorporar novas tarefas às já existentes, transformar informação em conteúdo e atribuir à velocidade tanto ou mais valor do que o tradicional "furo jornalístico".
Os efeitos de tantas dificuldades se refletem no consumo. O Brasil, um país de 170 milhões de habitantes, se tivesse os mesmos padrões de consumo de jornais diários do Japão e Noruega (cerca de 600 exemplares por mil habitantes), teria um padrão de consumo de jornais impressos da ordem de 100 milhões de exemplares diários. Nosso mercado, contudo, não chega a 10 milhões (64,2 exemplares por mil habitantes considerando-se somente a população adulta). Por quê vendemos tão pouco e ainda amargamos um declínio do número de leitores? Para entender o que está acontecendo nos jornais diários, é preciso antes conhecê-los.
Dados extraídos do site da Associação Nacional dos Jornais (ANJ) revelam que a circulação de jornais diários no Brasil reduziu-se 7,2 por cento em 2003. É o terceiro ano consecutivo de declínio, após os 9,1 por cento negativos verificados em 2002 e os 2,7 por cento de 2001. Esses recuos interromperam um crescimento que vinha desde 1996. Em outras palavras, após quatro anos de crescimento contínuo, a circulação dos jornais brasileiros registrou três quedas seguidas. Em 2003 a circulação foi de 6,470 milhões de exemplares/dia, contra 7,670 milhões registrados no ano anterior.
Dentre as causas do baixo índice de circulação de jornais no Brasil, estão fatores como o nível educacional, a distribuição da renda e a composição etária da população. Para Ricardo Noblat, o problema é outro. Em "A arte de fazer um jornal diário", (Contexto), ele sustenta que o modelo dos jornais está em xeque. Para Noblat, o medo de mudar é maior do que o medo de conservar algo que se desmancha no ar. Segundo ele, diz que os donos de jornal e os jornalistas estão cansados de saber que os jornais devem:
- renovar sua pauta de assuntos para ganhar mais leitores, principalmente mulheres e jovens;
- surpreender mais e mais os leitores com informações que eles desconheçam;
- humanizar o noticiário e abordar os temas pela ótica dos leitores;
- interagir com os leitores e abrir mais espaço para que falem e sejam ouvidos;
- conferir menos importância às notícias de ontem e ocupar-se em antecipar as que ainda estão por vir;
- apostar em reportagens porque são elas que diferenciam um jornal do outro;
- dar mais tempo aos repórteres para que apurem e escrevam bem;
- publicar textos que emocionem, comovam e inquietem;
- resistir à tentação de absorver prioridades tão características da televisão: superficialismo, entretenimento, diversão, busca de audiência a qualquer preço;
- investir pesado na qualificação dos seus profissionais;
- depender menos de anúncios e mais da venda de exemplares;
- e, mais importante do que tudo acima, fazer jornalismo com independência e que tome partido da sociedade.
Por isso, vou recorrer a um outro colega para finalizar a introdução de hoje. Ricardo Boechat, com quem tive o prazer de conviver e aprender no GLOBO (hoje no JB), me disse que o papel do repórter é encher de rugas o rosto do editor. Redações com editores de rosto liso não estão fazendo o melhor que podem. Redações são palco de conflito. É preciso convencer o editor a apostar na matéria. Temos de mostrar que, com todas as adversidades, o modelo de jornalismo investigativo continua firme e forte, capaz de fazer a diferença numa imprensa cada vez mais factual, fracionada e repetitiva.
ÉTICA E DANO MORAL
O cuidado com a ética deve estar presente em qualquer campo da atividade jornalística. Na chamada reportagem investigativa, este cuidado é mais agudo. Por isso, fiz questão de trazer este debate para o nosso encontro. Como muitos outros assuntos, os jornalistas se dividem com relação aos mecanismos de controle da conduta do profissional em nossa categoria. Enquanto nossas entidades representativas lutam por algum tipo de controle, há quem considere qualquer iniciativa neste sentido uma espécie de censura prévia. Vamos examinar estas duas correntes.
Cláudio Abramo, no livro "A regra do jogo", fez uma das melhores reflexões sobre a ética no jornalismo brasileiro: "Sou jornalista, mas gosto mesmo é de marcenaria. Gosto de fazer móveis, cadeiras, e minha ética como marceneiro é igual à minha ética como jornalista - não tenho duas. Não existe uma ética específica do jornalista: sua ética é a mesma do cidadão. Suponho que não se vai esperar que, pelo fato de ser jornalista, o sujeito possa bater a carteira e não ir para a cadeia". Abramo sustenta que, no jornalismo, o limite entre o profissional como cidadão e o como trabalhador é o mesmo do que qualquer outra profissão. "O jornalista não tem ética própria. Isso é um mito. A ética do jornalista é a ética do cidadão. O que é ruim para o cidadão é ruim para o jornalista". Ele adverte que os jornalistas não têm licença especial, dada por um xerife sobrenatural, para fazer o que quiser.
Hoje, praticamente não há um mecanismo de acompanhamento da conduta ética dos jornalistas brasileiros. O código de ética da profissão, que é nacional, estabelece apenas parâmetros morais, mas não obriga e nem estabelece punições para os abusos. Todos os sindicatos têm comissões de ética, mas não há uma atividade permanente e, quando um caso é apreciado, a punição máxima possível é a expulsão do quadro sindical, o que não representa muito. No Rio de Janeiro, por exemplo, nos anos 90 um ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Município foi flagrado à frente de um esquema de fraude na concessão de aposentadoria especial para perseguidos políticos durante a ditadura militar. Chegou a incluir as duas irmãs, que nunca haviam exercido a profissão, entre os favorecidos. Ele nunca foi levado à comissão de ética;
O Ministério do Trabalho registrava, em 2003, 110 mil jornalistas no Brasil. Destes, calcula-se que 80 mil estivessem exercendo a profissão. Outros 2 mil ingressam a cada ano no mercado de trabalho. Para estabelecer algum controle sobre a atividade destes profissional e zelar pela ética no mercado de trabalho, a Federação Nacional dos Jornalistas está propondo a criação de um Conselho Federal de Jornalismo (CFJ), nos moldes do que já existe para a Medicina, a Engenharia e outras áreas. Este projeto, que hoje encontra-se em estudos no Ministério do Trabalho, prevê a participação da sociedade civil no Conselho e formas de punição mais ostensivas para os desvios éticos.
O texto do CFJ está na página da Fenaj há pelo menos dois anos. Será tema do próximo Congresso da entidade, que se realiza no início de agosto em João Pessoa. Os sindicatos, como o mineiro, em todos os estados do país, têm travado esse debate com os profissionais, com a sociedade, com as universidades, enfim, com quem efetivamente estiver interessado no tema. O grande mérito do CFJ, defende a ex-presidente da Fenaj Beth Costa, será o de termos uma instância definitiva de regulação e acompanhamento da profissão. Segundo ela. está prevista a representação da sociedade civil, de tal forma que quando formos julgar possíveis abusos, não seremos corporativos, "mas contaremos com aqueles que são os grandes interessados na nossa produção de informação", disse.
O jornalista Luiz Garcia, do GLOBO, disse que não gosta da idéia. Primeiro, porque tende a fazer os jornais muito parecidos uns com os outros. Segundo, porque a variedade de situações que enfrentamos não cabe num conjunto de regras. Acaba-se fazendo algo genérico demais ou grande demais. Garcia disse que, dos códigos que conhece, o da Fenaj é grande demais, o da ANJ pequeno demais."Tenho medo de que a Fenaj esteja procurando montar algo como o que existe na propaganda, onde as situações e as soluções são de natureza inteiramente diferente. Posso estar inteiramente enganado e ser coisa inteiramente diferente, claro. Acho que é ética é muito mais uma questão de formação e de atitude do que de regrinhas. Você e eu podemos querer tratar um assunto de duas formas inteiramente diferentes e ambos podemos estar eticamente certos (ou errados). E tem mais: estamos discutindo a ética pessoal do profissional ou a do veículo? Se são coisas diferentes, gostaria de conhecer a receita para solucionar conflitos".
O fato é que as vítimas de erros e abusos da imprensa esbarram constantemente na falta de informações, nas dificuldades econômicas e na burocracia quando buscam os seus direitos. Quais são os limites na profissão? O jornalista deve ou não fazer o que o cidadão comum não deve fazer? Em nome do direito à informação, deve trair a palavra dada ou deve invadir a privacidade alheia? Pode cometer um ato ilícito para comprovar outro ato ilícito? Para provar a existência de uma rede de tráfico de drogas a domicílio, ele deve encomendar uma certa quantidade por telefone? Para provar a existência de uma rede de imigração clandestina para os EUA, ele deve comprar um pacote e seguir até os Estados Unidos? Para provar que um determinado cidadão é corrupto, ele pode publicar o conteúdo de uma fita gravada clandestinamente?
O debate sobre a ética na profissão teve um momento agudo em 1994, com o caso da Escola Base de São Paulo. Para quem não se lembra, em março daquele ano, a mídia denunciou seis pessoas por envolvimento no abuso sexual de alunas da Escola Base, no Bairro Aclimação. Baseou-se em fontes oficiais (polícia e laudos médicos) e em pessoas próximas (pais de alunos). Mas o fato simplesmente não existiu. Só serviu para liquidar os projetos profissionais e pessoais dos acusados, todos mais tarde inocentados. No debate sobre a ética no jornalismo brasileiro, a Escola Base tornou-se um caso emblemático. Mas, ao servir de referência, limita este debate aos problemas sobre a falta de cuidados na apuração, além de mostrar a pressa e a concorrência desenfreada como armadilhas capazes de grandes estragos.
A rotina das redações esconde outros problemas sérios. Viagens oferecidas por empresas e associações corporativas oferecem algum risco à esperada isenção no tratamento da notícia? A troca da exclusividade por espaço nos meios de comunicação é uma conduta aceitável? Privar da intimidade de um político é correto? Desistir de ouvir algum denunciado, após a primeira tentativa, ou negar a ele o direito de resposta é atitude correta? A rotina nas redações brasileiras está impregnada de situações como as descritas acima. Se tais práticas são vistas como contrárias à ética profissional, estamos então produzindo muitas "escolas base" todos os dias. O problema é que não há uma resposta definitiva para estas perguntas.
Não estamos acima do bem e do mal. Erros podem acontecer a qualquer momento em redações transformadas em verdadeiras usinas de informações. Mas é equívoco acreditar que a atuação do repórter ultrapassa, sempre que quer, o limite da responsabilidade, como pregam alguns incomodados. No GLOBO, assim como em muitas redações, há vários instrumentos de controle da qualidade. Não é, obviamente, uma fábrica de parafusos.O GLOBO tem, por exemplo, o seu próprio Código de Ética, que estabelece os parâmetros na atividade rotineira de seu repórteres. Um dos itens diz que "O GLOBO repudia qualquer atitude preconceituosa em face da atividade de empresas de assessoria de impresa e similares, mas considera a produção destas empresas fonte secundária de informação, a serviço de interesses próprios, não necessariamente coincidentes com os do jornal; nestas condições, o seu eventual aproveitamento exige identificação da origem e, em circunstância alguma, substitui a apuração independente dos fatos pelo jornal".
Na ausência de um controle efetivo, exercido pela própria categoria, a Justiça vem ocupando este espaço e se ocupando de julgar e punir os abusos na profissão. Como sou torcedor do Botafogo, sofredor, vou citar aqui um caso interessante: um torcedor foi fotografado chorando, debruçado sobre o placar. A foto maravilhosa. Mas, após a publicação, o torcedor entendeu que teve a sua honra atingida e ingressou na Justiça com uma ação de danos morais contra O GLOBO. Alegou que foi alvo de chacota por parte dos colegas. E já conseguiu uma decisão favorável em primeira instância;
Situações com esta são cada vez mais freqüentes no cenário da imprensa brasileira. A chamada "indústria do dano moral" é um fenômeno ligado à redemocratização do país. As pessoas passaram a ter mais acesso à Justiça e mais consciência de seus direitos. Ao mesmo tempo, a própria mídia passou a ocupar um papel central na luta contra a corrupção e a transparência na administração pública;
Concordo com a tese de que é justo e democrático o direito de um cidadão buscar na Justiça o reparo de um dano causado a sua imagem pela mídia. A Justiça, ao acolher tais ações, segue este entendimento. Mas o que está acontecendo hoje, no Brasil, é o uso abusivo deste direito. Processos são instaurados não com a intenção de um reparo moral, mas em busca de uma polpuda indenização ou da intimidação do repórter ou do meio de comunicação;
O site Consultor Jurídico apurou que jornais e emissoras das Organizações Globo, somadas aos jornais "Folha de S. Paulo", "O Estado de S.Paulo" e as editoras Abril e Três, já somam quase 3.400 ações de danos morais. Isso para um universo de 2.800 jornalistas. A maior parcelo dos processos é ajuizada por juízes, promotores, advogados e políticos. Deste total, apenas 150% ações são de cunho criminal. As demais são de natureza indenizatória. Se as empresas fossem condenadas em todas elas, as empresas teriam de pagar algo em torno de R$ 65 milhões, considerado o valor médio das indenizações de 20 mil.
O site diz ainda que os jornalistas e as empresas são condenados em apenas 20% dos casos. Este percentual, por não ser elevado, dá a falsa idéia de que, no final, tudo acaba bem para os jornalistas. Mas as conseqüências danosas desta indústria vão além do risco de uma pesada indenização. Para quem aciona um meio de Comunicação da Justiça, os riscos são quase nulos. É como se fosse uma loteria: o cidadão faz aposta e, se não ganhar, amassa o bilhete e o joga na lata de lixo. Isso porque a Justiça não pune a chamada litigância de má fé, ou seja, não condena o cidadão que recorre a ela para exigir um direito inexistente;
Já existem até escritórios de Advocacia especializados em prospectar clientes a partir da leitura diária dos jornais. São estes que produzem casos como o do torcedor do Botafogo. Para os meios de Comunicação, os danos são amplos. Jornais, revistas, sites, emissoras de rádio e TV são obrigados a manter uma pesada estrutura Jurídica, para se defender nestes processos. Nas redações, o temor de uma demanda judicial, mais do que mudar as rotinas e os cuidados de um repórter, incentivou também a perigosa autocensura. Muitas vezes, é melhor abandonar uma pauta do que correr riscos, pensam os colegas. Jornais de maior porte podem suportar pesadas indenizações, mas, para veículos menores, uma condenação pode significar a falência.
Vale lembrar que, recentemente, ao examinar recurso do jornal O Dia (RJ) contra o pagamento de indenização ao médico-legista Carlos Alberto de Oliveira, quatro ministros da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal julgaram inconstitucional o artigo da Lei de Imprensa que fixou em três meses o prazo para ação por indenização, movida por motivos de ofensa em relação ao conteúdo de uma reportagem. Os ministros ampliaram o prazo por considerarem que a Constituição, de 1988, não "recepcionou" o artigo 56 da Lei de Imprensa (nº 5.250), de 1967. Para os ministros, o prazo de três meses se confronta com a parte da Constituição que trata dos direitos individuais do cidadão (artigo 5º), principalmente aqueles de resposta e de indenização por danos morais, materiais ou à imagem, e que prevê prazo de vinte anos para a propositura da ação.
Ainda neste julgamento, o STF também derrubou os limites de valor da indenização - segundo a Lei de Imprensa, a quantia vai até 20 salários mínimos (R$ 5.200). Os ministros alegaram incompatibilidade com o artigo 5º da Constituição. Um deles descartou a possibilidade de haver condenações milionárias, argumentando que o STJ tem estabelecido valores razoáveis para processos como este. Um desses quatro ministros disse que deve valer para este tipo de ação o prazo de 20 anos, previsto para a maioria dos processos judiciais.
Nestes processos, muitas vezes, jornalistas são criticados por investigar, julgar e condenar uma pessoa sem que ela tenha chance de defesa. Vejo isso como um argumento perigoso. É preciso lembrar que o tempo, para a mídia, é diferente do tempo para o Judiciário. Não podemos esperar o longo tempo de tramitação de um processo para, só depois da publicação do acórdão, com a decisão de última instância, divulgar determinado caso. Se a própria Justiça reclama do excesso de recursos, das chicanas jurídicas, de medidas protelatórias que eternizam os processos, não há razão para a mídia também se submeter a isso. Além do mais, a divulgação de um inquérito ou processo garante transparência. Evita que o sigilo seja usado para ações suspeitas;
Minha relação com esse problema não tem sido tranqüila. Matérias que publiquei geraram processos de danos morais, razão pela qual, em determinadas situações, fiz uma espécie de parceria com o Departamento Jurídico (advogados participam de todas as etapas, da pauta à edição). O jornal nunca pediu aos seus repórteres para recuarem. Mas, na medida do possível, tem solicitado à redação que tome determinados cuidados.
ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA
"Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade", diz a Constituição, no Artigo 5º, inciso 33. Embora previsto na Carta, o direito dos brasileiros à informações públicas nunca foi regulamentado. Os dados são guardados pelas autoridades como se fossem de uso privado e são distorcidos como muita facilidade. Ainda predomina o conceito autoritário do uso reservado das informações públicas. A maioria das autoridades brasileiras não sabe que o documento e a informação produzida pelo agente público, pelo governante, não pertence a ele e nem ao estado, mas ao cidadão.
O chamado jornalismo investigativo enfrenta imensas dificuldades por causa da falta de regulamentação. Temos de contar com o poder de convencimento, que muitas vezes não basta. Mas não é só ele o único afetado. Quem perde é a sociedade. Se um morador de uma cidade do interior quer dados sobre determinada licitação, para reforma de uma escola, ele terá dificuldade para conseguir o dado. O mesmo pode acontecer com o conselho comunitário que busca informações sobre o preenchimento de cargos, sem concurso, de um hospital público. Até mesmo a divulgação de dados patrimoniais referentes a políticos na Justiça Eleitoral depende da boa vontade dos juízes.
Diferentemente do Brasil, vários países já têm lei de acesso às informações públicas. África do Sul e Lituânia são exemplos recentes. O caso mais conhecido é o dos Estados Unidos, com o FoIA ("Freedon of Information Act"), lei de 1966. Só em 2001, foram registrados mais de 2 milhões de pedidos com base no FoIA. E os requerimentos dos jornalistas representaram apenas uma fração mínima destes pedidos, ou seja, o acesso à informações públicas não é uma questão que interesse apenas jornalistas.
Na América Latina, países vizinhos do Brasil têm lei de acesso à informação. É o caso da Argentina, México e Peru. Não são leis perfeitas, mas colocam os cidadãos daqueles países em situação mais confortável do que no Brasil. Com o sugestivo nome de "Ley de Transparência", a experiência entrou em prática em 2003, no México. O Congresso mexicano aprovou a lei e teve a prudência de dar mais de um ano de prazo para que os órgãos públicos se adaptassem às novas regras.
Como não há disciplina legal sobre esse direito, o brasileiro tem de recorrer a leis que possam abrir caminho para o acesso a informações públicas. Encaixam-se nesta categoria a ação civil pública (cuja disciplina consta da Lei 7.347/85), a ação popular (Lei no 4.717/65) e o mandado de segurança (Lei no 1.533/51). São caminhos possíveis, embora demorados e quase inacessíveis para um cidadão comum.
Um decreto sancionado no fim do governo Fernando Henrique, que entrou em vigor em 2003, agravou a situação. Considerado autoritário e antidemocrático pelo Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), o decreto 4.553, de 27 de dezembro de 2002, aumentou os prazos de abertura de documentos a partir da data de sua produção. No caso dos considerados ultra-secretos, o prazo passou de 30 para 50 anos, com possibilidade de mais prorrogações. A regulamentação do acesso a documentos referentes ao regime militar está no centro da disputa pelo esclarecimento de fatos ainda obscuros, como a localização dos corpos dos guerrilheiros mortos no Araguaia. O ministro da Defesa, José Viegas Filho, declarou que os arquivos militares da guerrilha foram incinerados.
A Abraji defende a aprovação pelo Congresso Nacional de uma lei que regulamente de maneira adequada o inciso 33 do Artigo 5º da Constituição Federal por considerar o acesso à informação pública um dos principais fundamentos da transparência dos atos governamentais, pois isso protege o cidadão dosa atos indevidos e promove a participação da sociedade na vida pública.
Chico Otavio comentou como foram apuradas algumas de suas reportagens, como “O Império da Boa Vontade”, sobre irregularidades no uso de doações recebidas pela ONG religiosa Legião da Boa Vontade. A reportagem venceu o prêmio Esso em 2001 e foi escrita em parceria com Rubens Valente. Otavio convidou o sociólogo Cláudio Beato, coordenador geral do Centro de Estudo de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, para fazer um debate sobre como são apuradas as estatísticas de criminalidade em Belo Horizonte.
Leia a seguir alguns trechos da palestra:
Há pelo menos 50 anos, quando o repórteres Mário de Morais e Ubiratan de Lemos ganharam o primeiro Prêmio Esso ao acompanhar as famílias que migravam para o Sudeste nos paus-de-arara, em "O Cruzeiro", as grandes reportagens estão presentes na mídia brasileira. Mas o gênero reportagem investigativa só se tornou popular no Brasil com a cobertura do escândalo envolvendo o presidente Collor, em 1992. Aprendemos que todo o jornalismo tem de ser investigativo, ou seja, bem-apurado e crítico. Há quem diga que até mesmo a tarefa de apurar um tijolinho (pequena nota sobre a programação de filmes de uma sala de cinema, por exemplo) é jornalismo investigativo. Porém, há diferenças. Esta expressão, já consagrada em vários países, é mais usada para distinguir as reportagens de mais fôlego, que exigem maiores investimentos na apuração, do noticiário rotineiro.
A chamada reportagem investigativa faz diferença porque exige, geralmente, tempo, investimento, paciência e interesse na pesquisa. O período de apuração é dedicado à entrevistas em on e off com fontes diversas, levantamento de documentos em arquivos e cartórios, observação direta e checagem e rechecagem de dados. Este pequeno seminário, mais do que dar um panorama geral do jornalismo investigativo e as táticas que permitem aos jornalistas revelar os segredos do governo ou dos negócios, traz o testemunho de um apaixonado pelo gênero e suas estratégias para convencer o editor a apostar num determinado projeto.
Embora possa e deva ser aplicada em todos os assuntos que interessam aos leitores, a reportagem investigativa vem mostrando maior força, utilidade e repercussão quando se dedica à fiscalização do uso de recursos públicos e questiona a eficácia das políticas de governo no Brasil. No Brasil, há uma demanda para tal prática. Organizações como a Transparência Brasil mostram que o país enfrenta graves problemas no campo da corrupção. De acordo com pesquisa realizada pela entidade em 2003, cerca de 70% das empresas ouvidas afirmam gastar até 3% do seu faturamento com o pagamento de propina. Para 25%, este custo está em torno de 5% a 10%. Metade das empresas da amostra participa ou já tentou participar de licitações públicas. Destas, 62% relatam já terem sido sujeitas a pedidos de propina relativas a algum aspecto do certame ou do contrato.
Neste aspecto, a imprensa tem ocupado um papel central na luta pela transparência e pela ética, com reportagens que mostram o desvio de verbas públicas, nepotismo, improbidade administrativa, superfaturamentos e fraudes eleitorais. Mas o caminho não é fácil. A maioria dos repórteres aprende na prática a caminhar por este campo minado. Como alerta o jornalista Marcelo Beraba, presidente da Abraji, uma análise do jornalismo que produzimos a partir do início dos anos 80, quando se inicia a transição para a democracia, mostra que hoje apuramos melhor, somos mais precisos e que ampliamos nosso campo de fiscalização, estendendo a cobertura crítica a áreas antes reservadas apenas ao entretenimento, como futebol e cultura. Mas ainda somos reféns de relatórios malfeitos e de informações manipuladas, produzidas nas repartições policiais, nos ministérios públicos e nos gabinetes de políticos.
Fora isso, os jornais têm tido dificuldade para investir em equipes experientes e que precisam de tempo e recursos para produzir trabalhos de qualidade e diferenciados. Como vocês devem saber, a realidade nas redações conspira contra a reportagem investigativa: equipes enxutas, rotinas exaustivas, com mais de uma pauta para ser cumprida por dia, telefone transformado no principal meio de apuração, matérias que repetem aquilo que as emissoras de TV já divulgaram, orçamentos apertados fazem parte desta triste realidade As inovações técnicas, em busca de uma ampla divulgação, influem na tendência à uniformidade. Ficou tudo muito igual. Até no cotidiano de uma redação, isso pode ser visto. Nossos editores acumulam muitas tarefas técnicas e gerenciais. Portanto, não há tanto tempo a perder no contato com os repórteres.
Um colega, Rubens Valente (Folha), costuma dizer que, se dependesse da vontade do editor, ele teria uma placa luminosa permanentemente acesa em sua mesa, onde estaria escrito "não me tragam problemas". Além disso, também estamos pressionados pelo jornalismo em "tempo real", que mudou definitivamente as rotinas e prioridades das redações ao incorporar novas tarefas às já existentes, transformar informação em conteúdo e atribuir à velocidade tanto ou mais valor do que o tradicional "furo jornalístico".
Os efeitos de tantas dificuldades se refletem no consumo. O Brasil, um país de 170 milhões de habitantes, se tivesse os mesmos padrões de consumo de jornais diários do Japão e Noruega (cerca de 600 exemplares por mil habitantes), teria um padrão de consumo de jornais impressos da ordem de 100 milhões de exemplares diários. Nosso mercado, contudo, não chega a 10 milhões (64,2 exemplares por mil habitantes considerando-se somente a população adulta). Por quê vendemos tão pouco e ainda amargamos um declínio do número de leitores? Para entender o que está acontecendo nos jornais diários, é preciso antes conhecê-los.
Dados extraídos do site da Associação Nacional dos Jornais (ANJ) revelam que a circulação de jornais diários no Brasil reduziu-se 7,2 por cento em 2003. É o terceiro ano consecutivo de declínio, após os 9,1 por cento negativos verificados em 2002 e os 2,7 por cento de 2001. Esses recuos interromperam um crescimento que vinha desde 1996. Em outras palavras, após quatro anos de crescimento contínuo, a circulação dos jornais brasileiros registrou três quedas seguidas. Em 2003 a circulação foi de 6,470 milhões de exemplares/dia, contra 7,670 milhões registrados no ano anterior.
Dentre as causas do baixo índice de circulação de jornais no Brasil, estão fatores como o nível educacional, a distribuição da renda e a composição etária da população. Para Ricardo Noblat, o problema é outro. Em "A arte de fazer um jornal diário", (Contexto), ele sustenta que o modelo dos jornais está em xeque. Para Noblat, o medo de mudar é maior do que o medo de conservar algo que se desmancha no ar. Segundo ele, diz que os donos de jornal e os jornalistas estão cansados de saber que os jornais devem:
- renovar sua pauta de assuntos para ganhar mais leitores, principalmente mulheres e jovens;
- surpreender mais e mais os leitores com informações que eles desconheçam;
- humanizar o noticiário e abordar os temas pela ótica dos leitores;
- interagir com os leitores e abrir mais espaço para que falem e sejam ouvidos;
- conferir menos importância às notícias de ontem e ocupar-se em antecipar as que ainda estão por vir;
- apostar em reportagens porque são elas que diferenciam um jornal do outro;
- dar mais tempo aos repórteres para que apurem e escrevam bem;
- publicar textos que emocionem, comovam e inquietem;
- resistir à tentação de absorver prioridades tão características da televisão: superficialismo, entretenimento, diversão, busca de audiência a qualquer preço;
- investir pesado na qualificação dos seus profissionais;
- depender menos de anúncios e mais da venda de exemplares;
- e, mais importante do que tudo acima, fazer jornalismo com independência e que tome partido da sociedade.
Por isso, vou recorrer a um outro colega para finalizar a introdução de hoje. Ricardo Boechat, com quem tive o prazer de conviver e aprender no GLOBO (hoje no JB), me disse que o papel do repórter é encher de rugas o rosto do editor. Redações com editores de rosto liso não estão fazendo o melhor que podem. Redações são palco de conflito. É preciso convencer o editor a apostar na matéria. Temos de mostrar que, com todas as adversidades, o modelo de jornalismo investigativo continua firme e forte, capaz de fazer a diferença numa imprensa cada vez mais factual, fracionada e repetitiva.
ÉTICA E DANO MORAL
O cuidado com a ética deve estar presente em qualquer campo da atividade jornalística. Na chamada reportagem investigativa, este cuidado é mais agudo. Por isso, fiz questão de trazer este debate para o nosso encontro. Como muitos outros assuntos, os jornalistas se dividem com relação aos mecanismos de controle da conduta do profissional em nossa categoria. Enquanto nossas entidades representativas lutam por algum tipo de controle, há quem considere qualquer iniciativa neste sentido uma espécie de censura prévia. Vamos examinar estas duas correntes.
Cláudio Abramo, no livro "A regra do jogo", fez uma das melhores reflexões sobre a ética no jornalismo brasileiro: "Sou jornalista, mas gosto mesmo é de marcenaria. Gosto de fazer móveis, cadeiras, e minha ética como marceneiro é igual à minha ética como jornalista - não tenho duas. Não existe uma ética específica do jornalista: sua ética é a mesma do cidadão. Suponho que não se vai esperar que, pelo fato de ser jornalista, o sujeito possa bater a carteira e não ir para a cadeia". Abramo sustenta que, no jornalismo, o limite entre o profissional como cidadão e o como trabalhador é o mesmo do que qualquer outra profissão. "O jornalista não tem ética própria. Isso é um mito. A ética do jornalista é a ética do cidadão. O que é ruim para o cidadão é ruim para o jornalista". Ele adverte que os jornalistas não têm licença especial, dada por um xerife sobrenatural, para fazer o que quiser.
Hoje, praticamente não há um mecanismo de acompanhamento da conduta ética dos jornalistas brasileiros. O código de ética da profissão, que é nacional, estabelece apenas parâmetros morais, mas não obriga e nem estabelece punições para os abusos. Todos os sindicatos têm comissões de ética, mas não há uma atividade permanente e, quando um caso é apreciado, a punição máxima possível é a expulsão do quadro sindical, o que não representa muito. No Rio de Janeiro, por exemplo, nos anos 90 um ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Município foi flagrado à frente de um esquema de fraude na concessão de aposentadoria especial para perseguidos políticos durante a ditadura militar. Chegou a incluir as duas irmãs, que nunca haviam exercido a profissão, entre os favorecidos. Ele nunca foi levado à comissão de ética;
O Ministério do Trabalho registrava, em 2003, 110 mil jornalistas no Brasil. Destes, calcula-se que 80 mil estivessem exercendo a profissão. Outros 2 mil ingressam a cada ano no mercado de trabalho. Para estabelecer algum controle sobre a atividade destes profissional e zelar pela ética no mercado de trabalho, a Federação Nacional dos Jornalistas está propondo a criação de um Conselho Federal de Jornalismo (CFJ), nos moldes do que já existe para a Medicina, a Engenharia e outras áreas. Este projeto, que hoje encontra-se em estudos no Ministério do Trabalho, prevê a participação da sociedade civil no Conselho e formas de punição mais ostensivas para os desvios éticos.
O texto do CFJ está na página da Fenaj há pelo menos dois anos. Será tema do próximo Congresso da entidade, que se realiza no início de agosto em João Pessoa. Os sindicatos, como o mineiro, em todos os estados do país, têm travado esse debate com os profissionais, com a sociedade, com as universidades, enfim, com quem efetivamente estiver interessado no tema. O grande mérito do CFJ, defende a ex-presidente da Fenaj Beth Costa, será o de termos uma instância definitiva de regulação e acompanhamento da profissão. Segundo ela. está prevista a representação da sociedade civil, de tal forma que quando formos julgar possíveis abusos, não seremos corporativos, "mas contaremos com aqueles que são os grandes interessados na nossa produção de informação", disse.
O jornalista Luiz Garcia, do GLOBO, disse que não gosta da idéia. Primeiro, porque tende a fazer os jornais muito parecidos uns com os outros. Segundo, porque a variedade de situações que enfrentamos não cabe num conjunto de regras. Acaba-se fazendo algo genérico demais ou grande demais. Garcia disse que, dos códigos que conhece, o da Fenaj é grande demais, o da ANJ pequeno demais."Tenho medo de que a Fenaj esteja procurando montar algo como o que existe na propaganda, onde as situações e as soluções são de natureza inteiramente diferente. Posso estar inteiramente enganado e ser coisa inteiramente diferente, claro. Acho que é ética é muito mais uma questão de formação e de atitude do que de regrinhas. Você e eu podemos querer tratar um assunto de duas formas inteiramente diferentes e ambos podemos estar eticamente certos (ou errados). E tem mais: estamos discutindo a ética pessoal do profissional ou a do veículo? Se são coisas diferentes, gostaria de conhecer a receita para solucionar conflitos".
O fato é que as vítimas de erros e abusos da imprensa esbarram constantemente na falta de informações, nas dificuldades econômicas e na burocracia quando buscam os seus direitos. Quais são os limites na profissão? O jornalista deve ou não fazer o que o cidadão comum não deve fazer? Em nome do direito à informação, deve trair a palavra dada ou deve invadir a privacidade alheia? Pode cometer um ato ilícito para comprovar outro ato ilícito? Para provar a existência de uma rede de tráfico de drogas a domicílio, ele deve encomendar uma certa quantidade por telefone? Para provar a existência de uma rede de imigração clandestina para os EUA, ele deve comprar um pacote e seguir até os Estados Unidos? Para provar que um determinado cidadão é corrupto, ele pode publicar o conteúdo de uma fita gravada clandestinamente?
O debate sobre a ética na profissão teve um momento agudo em 1994, com o caso da Escola Base de São Paulo. Para quem não se lembra, em março daquele ano, a mídia denunciou seis pessoas por envolvimento no abuso sexual de alunas da Escola Base, no Bairro Aclimação. Baseou-se em fontes oficiais (polícia e laudos médicos) e em pessoas próximas (pais de alunos). Mas o fato simplesmente não existiu. Só serviu para liquidar os projetos profissionais e pessoais dos acusados, todos mais tarde inocentados. No debate sobre a ética no jornalismo brasileiro, a Escola Base tornou-se um caso emblemático. Mas, ao servir de referência, limita este debate aos problemas sobre a falta de cuidados na apuração, além de mostrar a pressa e a concorrência desenfreada como armadilhas capazes de grandes estragos.
A rotina das redações esconde outros problemas sérios. Viagens oferecidas por empresas e associações corporativas oferecem algum risco à esperada isenção no tratamento da notícia? A troca da exclusividade por espaço nos meios de comunicação é uma conduta aceitável? Privar da intimidade de um político é correto? Desistir de ouvir algum denunciado, após a primeira tentativa, ou negar a ele o direito de resposta é atitude correta? A rotina nas redações brasileiras está impregnada de situações como as descritas acima. Se tais práticas são vistas como contrárias à ética profissional, estamos então produzindo muitas "escolas base" todos os dias. O problema é que não há uma resposta definitiva para estas perguntas.
Não estamos acima do bem e do mal. Erros podem acontecer a qualquer momento em redações transformadas em verdadeiras usinas de informações. Mas é equívoco acreditar que a atuação do repórter ultrapassa, sempre que quer, o limite da responsabilidade, como pregam alguns incomodados. No GLOBO, assim como em muitas redações, há vários instrumentos de controle da qualidade. Não é, obviamente, uma fábrica de parafusos.O GLOBO tem, por exemplo, o seu próprio Código de Ética, que estabelece os parâmetros na atividade rotineira de seu repórteres. Um dos itens diz que "O GLOBO repudia qualquer atitude preconceituosa em face da atividade de empresas de assessoria de impresa e similares, mas considera a produção destas empresas fonte secundária de informação, a serviço de interesses próprios, não necessariamente coincidentes com os do jornal; nestas condições, o seu eventual aproveitamento exige identificação da origem e, em circunstância alguma, substitui a apuração independente dos fatos pelo jornal".
Na ausência de um controle efetivo, exercido pela própria categoria, a Justiça vem ocupando este espaço e se ocupando de julgar e punir os abusos na profissão. Como sou torcedor do Botafogo, sofredor, vou citar aqui um caso interessante: um torcedor foi fotografado chorando, debruçado sobre o placar. A foto maravilhosa. Mas, após a publicação, o torcedor entendeu que teve a sua honra atingida e ingressou na Justiça com uma ação de danos morais contra O GLOBO. Alegou que foi alvo de chacota por parte dos colegas. E já conseguiu uma decisão favorável em primeira instância;
Situações com esta são cada vez mais freqüentes no cenário da imprensa brasileira. A chamada "indústria do dano moral" é um fenômeno ligado à redemocratização do país. As pessoas passaram a ter mais acesso à Justiça e mais consciência de seus direitos. Ao mesmo tempo, a própria mídia passou a ocupar um papel central na luta contra a corrupção e a transparência na administração pública;
Concordo com a tese de que é justo e democrático o direito de um cidadão buscar na Justiça o reparo de um dano causado a sua imagem pela mídia. A Justiça, ao acolher tais ações, segue este entendimento. Mas o que está acontecendo hoje, no Brasil, é o uso abusivo deste direito. Processos são instaurados não com a intenção de um reparo moral, mas em busca de uma polpuda indenização ou da intimidação do repórter ou do meio de comunicação;
O site Consultor Jurídico apurou que jornais e emissoras das Organizações Globo, somadas aos jornais "Folha de S. Paulo", "O Estado de S.Paulo" e as editoras Abril e Três, já somam quase 3.400 ações de danos morais. Isso para um universo de 2.800 jornalistas. A maior parcelo dos processos é ajuizada por juízes, promotores, advogados e políticos. Deste total, apenas 150% ações são de cunho criminal. As demais são de natureza indenizatória. Se as empresas fossem condenadas em todas elas, as empresas teriam de pagar algo em torno de R$ 65 milhões, considerado o valor médio das indenizações de 20 mil.
O site diz ainda que os jornalistas e as empresas são condenados em apenas 20% dos casos. Este percentual, por não ser elevado, dá a falsa idéia de que, no final, tudo acaba bem para os jornalistas. Mas as conseqüências danosas desta indústria vão além do risco de uma pesada indenização. Para quem aciona um meio de Comunicação da Justiça, os riscos são quase nulos. É como se fosse uma loteria: o cidadão faz aposta e, se não ganhar, amassa o bilhete e o joga na lata de lixo. Isso porque a Justiça não pune a chamada litigância de má fé, ou seja, não condena o cidadão que recorre a ela para exigir um direito inexistente;
Já existem até escritórios de Advocacia especializados em prospectar clientes a partir da leitura diária dos jornais. São estes que produzem casos como o do torcedor do Botafogo. Para os meios de Comunicação, os danos são amplos. Jornais, revistas, sites, emissoras de rádio e TV são obrigados a manter uma pesada estrutura Jurídica, para se defender nestes processos. Nas redações, o temor de uma demanda judicial, mais do que mudar as rotinas e os cuidados de um repórter, incentivou também a perigosa autocensura. Muitas vezes, é melhor abandonar uma pauta do que correr riscos, pensam os colegas. Jornais de maior porte podem suportar pesadas indenizações, mas, para veículos menores, uma condenação pode significar a falência.
Vale lembrar que, recentemente, ao examinar recurso do jornal O Dia (RJ) contra o pagamento de indenização ao médico-legista Carlos Alberto de Oliveira, quatro ministros da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal julgaram inconstitucional o artigo da Lei de Imprensa que fixou em três meses o prazo para ação por indenização, movida por motivos de ofensa em relação ao conteúdo de uma reportagem. Os ministros ampliaram o prazo por considerarem que a Constituição, de 1988, não "recepcionou" o artigo 56 da Lei de Imprensa (nº 5.250), de 1967. Para os ministros, o prazo de três meses se confronta com a parte da Constituição que trata dos direitos individuais do cidadão (artigo 5º), principalmente aqueles de resposta e de indenização por danos morais, materiais ou à imagem, e que prevê prazo de vinte anos para a propositura da ação.
Ainda neste julgamento, o STF também derrubou os limites de valor da indenização - segundo a Lei de Imprensa, a quantia vai até 20 salários mínimos (R$ 5.200). Os ministros alegaram incompatibilidade com o artigo 5º da Constituição. Um deles descartou a possibilidade de haver condenações milionárias, argumentando que o STJ tem estabelecido valores razoáveis para processos como este. Um desses quatro ministros disse que deve valer para este tipo de ação o prazo de 20 anos, previsto para a maioria dos processos judiciais.
Nestes processos, muitas vezes, jornalistas são criticados por investigar, julgar e condenar uma pessoa sem que ela tenha chance de defesa. Vejo isso como um argumento perigoso. É preciso lembrar que o tempo, para a mídia, é diferente do tempo para o Judiciário. Não podemos esperar o longo tempo de tramitação de um processo para, só depois da publicação do acórdão, com a decisão de última instância, divulgar determinado caso. Se a própria Justiça reclama do excesso de recursos, das chicanas jurídicas, de medidas protelatórias que eternizam os processos, não há razão para a mídia também se submeter a isso. Além do mais, a divulgação de um inquérito ou processo garante transparência. Evita que o sigilo seja usado para ações suspeitas;
Minha relação com esse problema não tem sido tranqüila. Matérias que publiquei geraram processos de danos morais, razão pela qual, em determinadas situações, fiz uma espécie de parceria com o Departamento Jurídico (advogados participam de todas as etapas, da pauta à edição). O jornal nunca pediu aos seus repórteres para recuarem. Mas, na medida do possível, tem solicitado à redação que tome determinados cuidados.
ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA
"Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade", diz a Constituição, no Artigo 5º, inciso 33. Embora previsto na Carta, o direito dos brasileiros à informações públicas nunca foi regulamentado. Os dados são guardados pelas autoridades como se fossem de uso privado e são distorcidos como muita facilidade. Ainda predomina o conceito autoritário do uso reservado das informações públicas. A maioria das autoridades brasileiras não sabe que o documento e a informação produzida pelo agente público, pelo governante, não pertence a ele e nem ao estado, mas ao cidadão.
O chamado jornalismo investigativo enfrenta imensas dificuldades por causa da falta de regulamentação. Temos de contar com o poder de convencimento, que muitas vezes não basta. Mas não é só ele o único afetado. Quem perde é a sociedade. Se um morador de uma cidade do interior quer dados sobre determinada licitação, para reforma de uma escola, ele terá dificuldade para conseguir o dado. O mesmo pode acontecer com o conselho comunitário que busca informações sobre o preenchimento de cargos, sem concurso, de um hospital público. Até mesmo a divulgação de dados patrimoniais referentes a políticos na Justiça Eleitoral depende da boa vontade dos juízes.
Diferentemente do Brasil, vários países já têm lei de acesso às informações públicas. África do Sul e Lituânia são exemplos recentes. O caso mais conhecido é o dos Estados Unidos, com o FoIA ("Freedon of Information Act"), lei de 1966. Só em 2001, foram registrados mais de 2 milhões de pedidos com base no FoIA. E os requerimentos dos jornalistas representaram apenas uma fração mínima destes pedidos, ou seja, o acesso à informações públicas não é uma questão que interesse apenas jornalistas.
Na América Latina, países vizinhos do Brasil têm lei de acesso à informação. É o caso da Argentina, México e Peru. Não são leis perfeitas, mas colocam os cidadãos daqueles países em situação mais confortável do que no Brasil. Com o sugestivo nome de "Ley de Transparência", a experiência entrou em prática em 2003, no México. O Congresso mexicano aprovou a lei e teve a prudência de dar mais de um ano de prazo para que os órgãos públicos se adaptassem às novas regras.
Como não há disciplina legal sobre esse direito, o brasileiro tem de recorrer a leis que possam abrir caminho para o acesso a informações públicas. Encaixam-se nesta categoria a ação civil pública (cuja disciplina consta da Lei 7.347/85), a ação popular (Lei no 4.717/65) e o mandado de segurança (Lei no 1.533/51). São caminhos possíveis, embora demorados e quase inacessíveis para um cidadão comum.
Um decreto sancionado no fim do governo Fernando Henrique, que entrou em vigor em 2003, agravou a situação. Considerado autoritário e antidemocrático pelo Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), o decreto 4.553, de 27 de dezembro de 2002, aumentou os prazos de abertura de documentos a partir da data de sua produção. No caso dos considerados ultra-secretos, o prazo passou de 30 para 50 anos, com possibilidade de mais prorrogações. A regulamentação do acesso a documentos referentes ao regime militar está no centro da disputa pelo esclarecimento de fatos ainda obscuros, como a localização dos corpos dos guerrilheiros mortos no Araguaia. O ministro da Defesa, José Viegas Filho, declarou que os arquivos militares da guerrilha foram incinerados.
A Abraji defende a aprovação pelo Congresso Nacional de uma lei que regulamente de maneira adequada o inciso 33 do Artigo 5º da Constituição Federal por considerar o acesso à informação pública um dos principais fundamentos da transparência dos atos governamentais, pois isso protege o cidadão dosa atos indevidos e promove a participação da sociedade na vida pública.