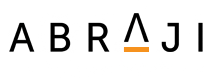- 08.06
- 2017
- 14:55
- Martin Baron | The Washington Post
I'm in Spotlight, but it's not really about me. It's about the power of journalism.
Este artigo foi publicado no The Washington Post em 24/02/2016 e traduzido pela Abraji.
Leia o original aqui.
Tento ficar atento, ou ao menos acordado, durante a maior parte das premiações do Oscar. Na maioria das vezes eu falho.
No domingo [28/02/16], entretanto, o cansaço terá um enorme contrapeso – um óbvio interesse pessoal. Além disso, estarei sentado dentro do Dolby Theatre.
“Spotlight” levou à tela grande os seis primeiros meses de uma investigação do Boston Globe que, em 2002, revelou uma série de abusos sexuais cometidos por sacerdotes na Arquidiocese de Boston, mantidas em segredo por décadas.
Liev Schreiber [ator] me retrata como o editor recém-chegado que impulsionou aquela investigação, e sua descrição me tornou o personagem estoico, sem senso de humor e um pouco severo que muitos colegas de profissão reconhecem instantaneamente (“He nailed you”), mas que meus amigos mais próximos não consideram inteiramente familiar.
O escândalo revelado pelo “Spotlight”, o núcleo investigativo do Globe, atingiu dimensões mundiais. Catorze anos depois, a Igreja Católica continua tendo que responder pelo modo como ocultou graves irregularidades em larga escala e pela adequação de suas reformas, como esperado..
O filme foi indicado a seis categorias do Oscar, incluindo melhor filme. E, que se dane a objetividade jornalística, espero que ele vença tudo. Eu me sinto em dívida com todos que fizeram um filme que captura, com sinistra autenticidade, como o jornalismo é praticado e, com forte precisão, por que ele é necessário.
Os prêmios são o reconhecimento em forma de estatueta para filmes excepcionais. Mas a recompensa de “Spotlight” me importa mais, e precisará de um júri mais longo do que o da academia.
Os ganhos virão se o filme tiver impacto: no jornalismo, porque proprietários e editores voltarão a se dedicar à reportagem investigativa; num público já incrédulo, porque os cidadãos reconhecerão a necessidade de uma cobertura local enérgica e de fortes instituições jornalísticas; e em todos nós, por meio de uma maior vontade de ouvir as pessoas silenciadas e impotentes, incluindo aquelas que sofreram abuso.
À parte a aclamação da crítica, “Spotlight” já rendeu um resultado gratificante. Em e-mails, tweets e posts no Facebook, jornalistas se disseram inspirados e reconhecidos. Isso não é pouca coisa nesta profissão gravemente ferida. Nós sentimos o impacto financeiro traumatizantes do surgimento da Internet e fomos repreendidos por praticamente todos, especificamente políticos em campanha que, cinicamente, nos definiram como “escória”.
Um jornalista me escreveu que “a história que inspirou o filme serve como um maravilhoso lembrete do porquê de tantos de nós termos entrado nesta profissão em primeiro lugar e do porquê de tantos terem ficado apesar de todas as agruras no caminho”.
Um repórter de um grande veículo nacional disse que foi ao cinema com toda a família. “Meus filhos de repente acham que sou bacana”, ele disse.
A reação de alguns editores tem sido especialmente animadora. Um deles, na Califórnia, reservou um cinema para exibir o filme a toda a equipe do jornal. Outro me escreveu no Facebook: “Você e a equipe de Spotlight… renovaram minhas energias para encontrar um modelo de negócio que banque esse tipo de trabalho crítico”.
Mais gratificante do que tudo têm sido as manifestações de apoio do público. “Acabei de assistir a Spotlight”, uma pessoa escreveu no Twitter, “e fui lembrado mais uma vez do imenso bem que pode advir de um jornalismo obstinado”.
Um filme não vai apagar as tensões de minha profissão ou a hostilidade que com frequência enfrentamos. Não foi por isso, para ser sincero, que me juntei a cinco colegas – Walter Robinson, Michael Rezendes, Sacha Pfeffer, Matt Carroll e Ben Bradlee Jr. – e concordei em cooperar com a produção desse filme. Pensamos apenas que era uma boa história, que valia a pena ser contada – e, ora, por que não?
Fiquei surpreso por termos sido abordados, e a princípio ficamos desconfiados quando dois jovens produtores, Nicole Rocklin e Blye Faust, vieram à redação do Globe sete anos atrás para vender a ideia. Quando eles pediram a cessão dos direitos sobre aquele episódio de nossas vidas – dando os cineastas o direito à nossa história e garantindo nossa cooperação – duvidei que o filme chegasse a ser produzido, apesar dosincero comprometimento deles. Os dois anos de silêncio e aparente inatividade que se seguiram justificaram aquelas dúvidas.
No fim das contas, em 2011, a produtora Anonymous Content assinou o contrato, trazendo o entusiasmo dos produtores Steve Golin e Michael Sugar. Tom McCarthy foi recrutado como editor e posto ao lado de Josh Singer como roteirista. A confiança de que o filme poderia ser feito aumentou.
Tom e Josh faziam uma ótima dupla. Tom havia dirigido “O agente da estação”, “Ganhar ou ganhar: a vida é um jogo” e “O visitante”, todos filmes merecidamente admirados. Josh havia estudado matemática e economia em Yale, conseguiu um diploma em direito em Harvard, também em Harvard fez MBA e trabalhou como analista de negócios na consultoria McKinsey. Naturalmente, sua escolha foi tornar-se roteirista (“Nos bastidores do poder” e “O quinto poder”).
Em resumo, Tom estava colaborando com Josh como co-autor, e ambos embarcaram numa investigação minuciosa do nosso trabalho como eu nunca havia visto. A pesquisa era impressionante, com uma série aparentemente interminável de entrevistas com jornalistas, advogados, sobreviventes, pessoas da comunidade de Boston e especialistas no tema do abuso sexual no clero. Eles estudaram o arquivo de matérias do Globe, leram emails que haviam sido salvos, revisaram milhares de documentos dos tribunais. Eles colheram meus depoimentos sobre tudo que eu sabia.
Josh e Tom sabiam mais sobre o que havia acontecido no Globe do que eu sabia. Lendo o roteiro, aprendi algumas coisas. Eu não tinha ideia das ressalvas ou da resistência da equipe para persistir na investigação. Quando comecei como editor do Globe, não tinha fontes na redação. Ninguém me atualizou depois, também.
Apesar de todo aquele trabalho, o projeto parecia um tiro no pé.
Era fácil ser pessimista: a) abuso sexual de crianças e adolescentes é um assunto difícil para qualquer um; b) o filme corria o risco de ofender os católicos e a Igreja; c) o filme se apoiou unicamente nos diálogos e personagens – sem ação, sem efeitos especiais; em resumo, não era a fórmula de Hollywood; d) jornalistas são detestados por muita gente, e filmes sobre jornalismo têm frequentemente se esforçado para conseguir audiência.
E a última razão, concluí, certamente seria fatal: os católicos tinham um papa novo e popular. Como aquele poderia ser o momento certo para um filme que apontava o dedo para a Igreja?
Como que para provar que eu não sabia nada sobre a indústria do cinema, aquele foi o momento em que todas as peças se encaixaram. Mark Rufallo, que foi nomeado para melhor ator coadjuvante pela interpretação de Michael Rezendes, foi o primeiro a assinar, abrindo espaço na agenda para “Spotlight” entre compromissos com filmes de orçamentos milionários. Seu entusiasmo com o projeto, de acordo com o que li e ouvi, ajudou a atrair outros grandes nomes – e, no limite, a liberar o dinheiro necessário para a produção.
Depois de anos esperando, de repente as coisas estavam se mexendo depressa. Tom me perguntou se eu poderia me encontrar com Liev na tarde de 12 de setembro de 2014, e Liev, em seguida, enviou um e-mail por conta própria. Ele havia dito que estava preparado para conhecer alguém não só reservado como “totalmente impenetrável”. Tal era minha reputação.
Nos encontramos por menos de duas horas, e enquanto conversávamos percebi que aquilo não era exatamente uma entrevista. Era uma sessão de observação, muito semelhante à que um psiquiatra faria. A única diferença era de que aquelas observações não seriam confidenciais. Elas seriam reveladas a milhões de espectadores.
Depois, Tom e eu trocamos e-mails:
Tom: Como foi o encontro? Impressões?
Eu: A questão importante é – como ele acha que foi? Sinto que ele achou difícil me compreender por completo. Ele não seria o primeiro a pensar isso.
Tom: Ele acha que o encontro foi muito bem. E ele ficou frustrado por não te compreender inteiramente. Mas Liev pode estar sempre frustrado. Faz parte do seu charme.
Depois, Liev deu outra explicação. Ele estava se esforçando para entender o papel.
Eu não veria “Spotlight” no cinema até a premiere no Festival Internacional de Filmes de Toronto em 14 de setembro de 2015, no imenso Teatro Princess of Wales, junto com duas mil outras pessoas.
O filme teve um efeito poderoso. O Los Angeles Times notou que, em cinco dias do festival em Toronto, “Spotlight” foi “o único filme a arrancar aplausos durante a exibição e também depois, quando rolavam os créditos”. O público também aplaudiu quando Tom chamou os atores ao palco. Depois, ele chamou os jornalistas ao palco, um por um. E aconteceu algo que para nós é raro: recebemos uma longa ovação de pé.
Foi um momento emocionante. Pensei sobre o trabalho de outrora que levou ao filme, e como seu impacto seria ampliado. Pensei sobre como o público poderia ver agora por que o jornalismo é necessário. E pensei sobre a estranheza daquela cena da qual eu fazia parte: o triste tema do abuso sexual havia chegado a uma bizarra intersecção com o mundo das celebridades, paparazzi e entrevistas no tapete vermelho.
À medida que o trabalho com o filme chegava ao fim, Tom me perguntou se havia alguma coisa ali que não pudesse parecer autêntica para os jornalistas. Não vi nada. “Por quê?”, perguntei. “Isso é importante?”
“Muito”, ele respondeu.
Jornalistas do mundo inteiro agora assistiram ao filme, e todos reagiram do mesmo modo: o filme é incrivelmente preciso na maneira como retrata a prática do jornalismo, da reportagem investigativaem particular.
Quanto à minha própria representação, eu teria de ser muito ranzinza para reclamar. O filme faz uma honra a mim, assim como a contida e complexa atuação de Liev Schreiber, um talento excepcional.
O filme foi uma oportunidade de ver a mim mesmo pelos olhos de outras pessoas. No início deste ano, Sacha perguntou a Liev como ele foi capaz de capturar minha personalidade tão precisamente, dado o pouco tempo que ele passou com alguém tão “remoto” e “emocionalmente distante”.
Meus amigos mais próximos afirmaram que o filme omitiu uma de minhas qualidades mais redentoras. Foi bacana e divertido ver uma deles indo ao Facebook me defender, citando meu “companheirismo e humor fáceis”. Ela ainda disse: “O personagem de Martin mal esboça um sorriso durante o filme, mas na vida real Martin é um público fácil para piadas.”
A verdade é que aqueles primeiros meses no Boston Globe não foram um período fácil para mim. Sem dúvida, meu comportamento deixou entrever isso, tanto que na época um repórter do Globe descreveu anonimamente a atmosfera da redação como de “uma busca infeliz pela excelência”.
Cheguei ao jornal não conhecendo ninguém a não ser duas pessoas. Não conhecia ninguém em Boston a não ser um casal que eu não via fazia anos. Fui considerado um “estrangeiro” na cidade, e não um “recém-chegado”. E quatro pessoas altamente qualificadas disseram a mim que haviam tentado a posição de liderança que me deram.
O próprio jornalismo rapidamente também sofreu uma virada, começando com a investigação da igreja. Seis semanas depois que cheguei ao Globe ocorreu o 11 de Setembro, que foi seguido de dias de ameaças de ataques com Anthrax. Foi uma época tensa para todos, e para mim um tempo solitário.
Felizmente, as coisas deram certo. Valorizo meus 11 anos e meio no Globe, meus colegas e os amigos que fiz em Boston.
Pese a sua verossimilhança, vale lembrar que Spotlight é um filme, e não um documentário. É fiel aos principais aspectos de como a investigação do Globe se desdobrou. Mas não é uma descrição etnográfica de cada encontro ou conversa que tivemos. A vida não se desenrola perfeitamente para caber num filme de duas horas, que deve apenas introduzir coerentemente personagens, temas e questões importantes.
Respondendo à pergunta que mais me fazem, sim, fui presenteado com o “Catecismo” pelo Cardeal Bernard Law quando saí de sua casa. O livro que aparece no filme é o mesmo que ele deu a mim. Mas a cena no filme tem alguns floreios. Na maior parte, nossa conversa girou em torno de um assunto que ambos parecíamos determinados a evitar – a investigação do Globe.
Às vezes, tenho sido questionado sobre o que eu gostaria de ter visto no filme que não foi mostrado. Uma resposta, confesso, é produto de minha própria raiva, que os anos ainda precisam apagar.
Me refiro ao discurso de 4 de novembro de 2002, dado por Mary Glendon, professora de direito em Harvard que depois se tornaria embaixadora dos Estados Unidos para o Vaticano. “Tudo que posso dizer”, declarou antes de uma conferência para católicos, “é que, se a justiça e a decência existem, premiar o Boston Globe com o Prêmio Pulitzer seria como entregar o Nobel da Paz a Osama Bin Laden”.
Um breve momento do discurso substitui volumes de livros a respeito da cultura de negação e ameaça que afligiu a Igreja antes e depois de nossa investigação.
O trabalho do Globe provou ser justo e correto. Apropriado, também. E em 2003 foi recompensado com o Prêmio Pulitzer de Interesse Público. O conselho do Pulitzer mencionou sua “corajosa e responsável cobertura do abuso sexual pelos sacerdotes, um esforço que escavou segredos, causou reação local, nacional e internacional e provocou mudanças na Igreja Católica.
Treze anos atrás, recebi uma carta do Padre Thomas P. Doyle, que travou sozinho uma longa batalha na Igreja em defesa das vítimas de abuso.
“O abuso sexual de crianças e jovens adultos pelo clero e seu encobrimento”, ele escreveu, “é a pior coisa que aconteceu com a Igreja Católica em muitos séculos. Também é a maior traição dos homens da igreja com aqueles que eles deveriam proteger. As crianças católicas foram traídas, e seus pais e amigos foram traídos. Os sacerdotes foram traídos e o público em geral foi traído. Esse pesadelo teria durado por anos e anos se não fosse por você e a equipe do Globe”.
“Como alguém que se envolveu profundamente e por tantos anos na luta pela justiça para as vítimas e sobreviventes, eu te agradeço com todos os centímetros do meu ser. E te garanto que o que você e o Globe fizeram pelas vítimas, pela igreja e pela sociedade não pode ser medido. Foi muito importante, e seus efeitos vão reverberar por décadas.”
Mantive a carta do Padre Boyle em minha mesa até o dia em que, três anos atrás, deixei Boston para me juntar ao Washington Post. Em momentos difíceis para o Globe e para mim, ela me serviu como lembrete do porquê de eu ter vindo ao jornalismo e do que me mantém aqui.
Não havia filme na época. Não havia prêmios.
De qualquer modo, eu já havia recebido minha recompensa, e ela durará para sempre.