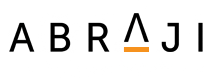- 05.02
- 2021
- 16:19
- Lynsey Chutel
Como é a diversidade em redações investigativas ao redor do mundo
Da pandemia global do coronavírus às reflexões que se seguiram aos protestos Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), o ano de 2020 expôs uma série de falhas na sociedade. As organizações estão questionando seu papel e o jornalismo não foi poupado por este momento de autoanálise. Em vários dos principais meios de comunicação dos Estados Unidos, houve demissões de funcionários e protestos sobre a falta de diversidade racial.
Claro que esse não é um problema apenas dos EUA. Um estudo de 2020 do Reuters Institute, que analisou 100 veículos de notícias em cinco países e quatro continentes, descobriu que, geralmente, os cargos mais importantes das principais organizações são ocupados muito mais por brancos do que o percentual das populações que atendem. No Brasil e em outros quatro países (Reino Unido, África do Sul, Alemanha e Estados Unidos), apenas 18% dos 88 principais editores não eram brancos, em comparação com 41% da população em geral. No Brasil, que tem uma população majoritariamente não branca, a pesquisa encontrou apenas um editor não branco; nos EUA, foram dois.
Dados exatos sobre a composição das equipes de jornalismo investigativo em todo o mundo são escassos. Mas em meio a preocupações de que esse prestigioso campo ainda é dominado por um grupo nada diversificado, o National Press Club dos Estados Unidos organizou um seminário sobre como recrutar equipes de jornalismo investigativo diversificadas.
E em entrevistas realizadas para este artigo, jornalistas de todo o mundo sugerem que o campo investigativo é uma das áreas que tem dificuldade para atrair, treinar e reter jornalistas negros e de origens diversas.
“Eu queria fazer isso há muito tempo, mas eu estava muito intimidada com a ideia de ser uma jornalista investigativa”, conta Zanele Mji, ex-repórter da organização sul-africana amaBhungane. “Agora eu entendo o porquê: eu nunca tinha visto ninguém como eu fazendo isso.”

A repórter investigativa sul-africana Zanele Mji. Foto: Cortesia de Zanele Mji
Mji, uma mulher negra sul-africana de 32 anos, lembra-se de poucas pessoas de cor, e ainda menos mulheres de cor, que tinham reconhecimento no campo do jornalismo investigativo quando ela entrou na área em 2017, apesar do legado dos famosos jornalistas negros da era do apartheid Henry Nxumalo e Nat Nakasa.
“Eu sabia que a forma como a África do Sul funciona é extremamente injusta”, diz Mji, que relatou as disparidades em torno da propriedade de terras no país, mostrando que é um sistema que continua prejudicando os negros sul-africanos. Em uma época em que o chamado “vazamentos de Gupta” - a descoberta de documentos que revelavam ligações corruptas entre os irmãos Gupta, nascidos na Índia, e o governo sul-africano - eram as maiores histórias, os artigos de Mji vinham de "negros pobres que foram injustiçados".
O estudo da Reuters descobriu que a África do Sul tem uma maioria de editores não brancos, com 68%. E as investigações de Mji sobre despejos receberam uma menção especial no Prêmio Taco Kuiper de Jornalismo Investigativo em 2018. Uma olhada rápida na lista de indicados a esses prestigiosos prêmios nos últimos anos revela falta de diversidade.
As questões de diversidade variam dos Estados Unidos à Europa e aos países do sul, abrangendo raça, etnia, religião, gênero, representação socioeconômica, idioma e até mesmo ambientes urbanos versus rurais. Queríamos descobrir como as questões de diversidade se desenvolvem nas redações de todo o mundo e o que os meios de comunicação estão fazendo para melhorar o equilíbrio.
Dando voz às mulheres de ambientes rurais
As histórias investigativas que têm impacto nem sempre são relatos abrangentes de corrupção global. As histórias locais também são importantes. Como uma que foi publicada por um veículo de jornalismo investigativo na Índia, que destacou como o gado abandonado, deixado por fazendeiros empobrecidos, é um sintoma do agravamento da crise climática no norte do país e do fracasso do estado em priorizar os pobres.
Esse caso foi investigado pelo Khabar Lahariya, um jornal que conta as histórias de marginalização de mulheres indígenas e “Dalit” (“intocáveis”), uma comunidade excluída do sistema hierárquico de castas na Índia. É motivo de orgulho para Meera Jatav, a fundadora do veículo, que, após a publicação da reportagem, o assunto gerou um debate parlamentar em Nova Delhi.
“O patriarcado está em nosso dia a dia, nós o enfrentamos, lidamos com ele, negociamos com ele, de nossas casas a tudo o que fazemos fora delas”, diz Jatav. Depois de fundar um jornal que possui uma equipe quase exclusivamente feminina e um público de 80.000 leitores, Jatav passou a construir o Chitrakoot Collective, uma organização de mídia feminista, que leva o nome do distrito onde está baseada.
“É uma batalha diária e constante para nós, mulheres, poder fazer um trabalho, poder sair, poder fazer algo como uma reportagem, o que para uma mulher é inédito por aqui até hoje."
Ao longo de sua carreira, que se estende por mais de duas décadas, Jatav foi ridicularizada, prejudicada e teve sua casta e credenciais verificadas por funcionários que não acreditam que uma mulher Dalit pudesse ser uma jornalista investigativa.
Quando ela e as outras mulheres do Khabar Lahariya e do Coletivo Chitrakoot exigiram prestação de contas como repórteres, os oficiais exigiram saber seus sobrenomes primeiro, ou, na falta disso, a profissão de seus pais, para estabelecer sua origem e se valia a pena responder a elas. Nas redações, essa forma de preconceito é mais sutil, mas predominante.
“Existem obstáculos”, conta Priyanka Kotamraju, editora do coletivo. “Em toda instituição, seja sem fins lucrativos ou de mídia nacional, a presença de jornalistas dalits e indígenas continua minúscula até hoje, quase não há editores que ocupem cargos importantes que sejam dalits ou indígenas, ou que venham dessas origens”.
“Mesmo que mulheres de cor ou de grupos marginalizados cheguem aos meios de comunicação, seu papel é limitado, seu crescimento é limitado”, afirma Jatav.
“A identidade delas costuma ser apagada e elas nunca são vistas ou mostradas como uma pessoa pertencente a um grupo marginalizado, o que torna invisível muito do racismo sistêmico que enfrentam nos locais de trabalho. Eles não vão falar sobre isso porque não vão falar sobre a sua identidade. ”
Para as jornalistas do Coletivo Chitrakoot e da organização de jornalismo investigativo Agência Pública no Brasil, a criação de uma plataforma alternativa é uma forma de contornar as barreiras e hierarquias invisíveis da mídia tradicional.
Como primeira organização investigativa sem fins lucrativos do Brasil, a Agência Pública foi motivada pela necessidade de aumentar a cobertura dos direitos humanos no país.
“Muitas mulheres jornalistas se juntaram à equipe”, conta a cofundadora Natalia Viana, do corpo de reportagem que se formou durante o período inicial da Publica. “Para nós, então, ficou claro que as mulheres estavam mais abertas para ajudar a estabelecer algo completamente novo e também que nossas necessidades e questões definiriam naturalmente o fluxo de trabalho, as relações institucionais, as coberturas e a identidade da organização.”
Isso significa que as questões de gênero foram pensadas desde o começo e que incluir as vozes de grupos marginalizados tornou-se parte da posição editorial da agência, especialmente na hora de investigar a corrupção e o abuso de poder nas áreas rurais e florestais do Brasil.
“Estas são, sem dúvida, as pessoas mais informadas sobre os abusos de poder, as violações cometidas por empresas, políticos e governos”, explica Viana, em entrevista por e-mail. A Publica está fazendo parceria com outros dez veículos da mídia para levar notícias a um público maior e mais diverso, com jovens apresentadores negros e indígenas usando o Instagram para apresentar e produzir stories.
Viana também destaca um ponto-chave em relação à diversidade e ao direcionamento editorial: muitas vezes é quem quer que se sente à mesa que decide quais histórias serão investigadas e quais temas receberão os principais recursos. Nesse sentido, Viana acredita que uma equipe mais diversificada pode ajudar.
“Mas é claro que somos jornalistas, então é uma parte natural do nosso trabalho decidir quais investigações devem ser priorizadas em um determinado momento”, diz Viana, cujo veículo já recebeu dezenas de prêmios em matérias publicadas em mais de 1.300 agências de notícias internacionais. “Sempre focamos em histórias que os outros não estão cobrindo, a fim de otimizar recursos e impacto e o que é relevante para o Brasil agora”.
Conscientize-se da diversidade dentro das comunidades
Na Malásia, a equipe da agência de notícias digital Malaysiakini vê as questões de diversidade se manifestando de maneiras diferentes.
Em primeiro lugar, há seu público. Especializado em histórias sobre corrupção e comunidades marginalizadas, o veículo publica em quatro idiomas - bahasa, chinês, inglês e tâmil - para atingir o maior público possível. Sua cobertura especial sobre a pandemia da covid-19 também é traduzida para birmanês, nepalês e bengali, a fim de alcançar a grande comunidade de trabalhadores migrantes do país.

Aidila Razak, editora de Reportagens Especiais do Malaysiakini. Foto: Cortesia Malaysiakini
Depois, há os aspectos práticos de fazer reportagens em um país com uma composição étnica rica e variada (62% malaio; 21% chinês; 6% indiano; 11% outros). A redação da Malaysiakini é etnicamente diversa, uma decisão deliberada por parte da administração.
Aidila Razak, editora de Reportagens Especiais da Malaysiakini, produziu relatórios detalhados sobre os efeitos do desmatamento e acompanhou a jornada de crianças migrantes desacompanhadas.
Razak diz que ela usa um hijab na cobertura de certos temas, ou que envia um repórter do sexo masculino para cobrir eventos delicados, com o objetivo de não se tornar ela mesma o assunto do artigo.
Mas, em alguns casos, como caminhar por uma selva com guias indígenas conservadores para descobrir os efeitos do desmatamento, Razak simplesmente insiste. “Eu me considero uma jornalista, não uma jornalista mulher”, diz ela.
Razak está mais preocupada com as restrições sociais que as mulheres enfrentam que, combinadas com a cultura de longas jornadas de trabalho e baixos salários do jornalismo investigativo, podem fazer com que as mulheres acabem escolhendo abandonar projetos investigativos de longo prazo. Isso ocorre especialmente em redações independentes relativamente pequenas como a Malaysiakini.
Promovendo a diversidade em um clima desafiador
A última década foi brutal para a indústria de notícias, com antigos jornais locais fechando - ou enfrentando dificuldades financeiras extremas - e veículos digitais demitindo milhares de funcionários, enquanto sindicatos de jornalistas pedem que as empresas de mídia elaborem planos de contingência para evitar novos cortes. E os especialistas dizem que isso também teve impacto na diversidade.
"Acho que quando o setor entrou em queda livre, o recrutamento foi deixado de lado", diz Maria Carrillo, editora adjunta do Tampa Bay Times, no Investigative Reporters and Editors Journal no início de 2020. “E não houve a renovação de um compromisso de criar e cuidar como parecia haver antes”.
Jornalistas de várias origens ainda podem vivenciar a solidão de serem os únicos representantes de sua etnia ou gênero, ou mesmo de sua origem socioeconômica, em uma equipe ou redação, e muitas vezes são forçados a se tornar a voz desta comunidade na prática.
Além disso, alguns jornalistas nos Estados Unidos se sentem limitados a cobrir sua comunidade ou questões raciais ou de diversidade. Por mais que essas reportagens sejam necessárias, elas limitam jornalistas que poderiam contribuir com muito mais.
“Os negros não estão tendo oportunidades na grande mídia”, resume Ron Nixon, que foi promovido a editor de Investigações Internacionais da Associated Press em março deste ano. Nixon, que anteriormente trabalhou como correspondente de segurança interna do The New York Times, cresceu querendo ser como Bob Woodward, o repórter que expôs o caso Watergate, mas ao ver jornalistas negros como o correspondente da CBS Ed Bradley e o repórter Les Payne, vencedor do Prêmio Pulitzer sentiu que uma carreira no jornalismo investigativo era possível.
Não dar a oportunidade de trabalhar em jornalismo investigativo a um grupo mais diversificado de jornalistas é uma oportunidade perdida, lamenta Nixon, que também é cofundador da organização comercial de notícias norte-americana Ida B. Wells Society for Investigative Reporting, cuja missão é “aumentar a hierarquia, a permanência e o perfil” dos jornalistas investigativos negros.
Nixon cita o trabalho notável da jornalista egípcia Maggie Michael, cujo trabalho sobre as atrocidades da guerra no Iêmen rendeu a ela, a seus colegas e à AP o Prêmio Pulitzer em 2019.
“Isso é o que você está perdendo quando não amplia o campo para incluir pessoas de cor, porque você traz diferentes perspectivas, diferentes ideias e uma visão de mundo diferente para essa área”, conclui ele.
Lynsey Chutel é uma jornalista independente que mora em Joanesburgo, na África do Sul. Ela escreveu e produziu matérias focadas em gênero, identidade, desenvolvimento, cultura e notícias cotidianas em partes do leste e sul africanos. Suas reportagens foram publicadas no The New York Times, Associated Press, Quartz, The Guardian e The Washington Post.
Nota da Abraji: O texto, publicado originalmente em 16.set.2020, foi traduzido por Ana Beatriz Assam