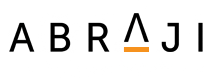- 06.07
- 2011
- 15:05
- Opera Mundi
Como aumentar a proteção dos jornalistas que cobrem guerras: o papel das empresas de comunicação
Publicado no blog “Opera Mundi” em 02 de junho de 2011
A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) está realizando esta semana, em São Paulo, seu 6º congresso internacional. Um dos temas debatidos intensamente ao longo de quase oito horas por mais de 90 jornalistas e estudantes de jornalismo que participam deste evento foram as medidas de proteção para profissionais de imprensa designados para cobrir conflitos armados ao redor do mundo.
O Última Instância – um dos apoiadores do congresso – está publicando uma série de três artigos escritos por mim, que coordenei a mesa, ao lado do jornalista Andrei Netto, correspondente do jornal brasileiro O Estado de S. Paulo em Paris; Sandra Lefcovich, assessora de Comunicação do CICV (Comitê Internacional da Cruz Vermelha) para Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai; Marcelo Moreira, membro do conselho da Ong INSI (International News Safety Institute); e Rodney Pinder, diretor do INSI em Londres.
No primeiro artigo da série, foi analisada especialmente a relação entre jornalistas e forças armadas, tanto em situações reais de emprego da força quanto em cursos de preparação oferecidos pelo Exército no Brasil. O caso do Haiti foi explorado com a análise de três reportagens reproduzidas no artigo.
Além disso, foram recuperados casos de jornalistas brasileiros que colocaram suas vidas em risco na cobertura de conflitos armados, numa tentativa de esquadrinhar os procedimentos seguidos pelas redações e por eles mesmos, como forma de tirar lições destes episódios.
Um segundo aspecto, que merece ser visto com rigor neste segundo artigo da série, é o das empresas privadas de comunicação. É compreensível que a maioria dos jornalistas prefira não criticar abertamente seus empregadores. É preciso, entretanto, trabalhar para que haja um ambiente de confiança mútua que permita que os grandes jornais, revistas e TVs do Brasil reflitam sobre as práticas que têm adotado ao enviar correspondentes para zonas de conflito, ou mesmo de desastres naturais.
O envolvimento ativo das empresas de comunicação na segurança de seus profissionais tem sido uma das recomendações centrais do INSI ao longo dos anos.
O relatório sobre mortes de jornalistas elaborado periodicamente pela organização termina, invariavelmente, com recomendações não apenas para o setor público – que deve adotar leis que punam os crimes contra jornalistas e combata a impunidade para estes crimes –, mas também para as empresas. Estas devem, do meu ponto de vista, associar-se ao INSI e buscar um assessoramento efetivo neste setor, como forma de minorar os riscos.
Rapidamente, é possível listar alguns aspectos negligenciados pelas empresas. Aclarar aos profissionais quais são os seguros de vida contratados para seus empregados é um deles. A maioria dos colegas repórteres intui que seu empregador deva ter um seguro contratado, mas é incapaz de dar mais detalhes sobre isso, ou chega mesmo a duvidar de que este seguro exista efetivamente, quando perguntado duas vezes.
Outro aspecto importante é a compra e a adoção de uma norma comum para o uso de certos equipamentos de proteção individual. A existência de coletes e capacetes nas redações já é adotada por algumas empresas – e isso é mais comum no Rio de Janeiro, pela cobertura do narcotráfico em favelas. Mas na maioria dos casos, os jornalistas desconhecem a existência destes equipamentos, não sabem como manejá-los e não conhecem suas características, o que reduz a efetividade, por exemplo, de qualquer colete à prova de balas.
As empresas devem preocupar-se mais em ouvir os repórteres que regressam de zonas conflagradas. Para o leitor, pode ser difícil de acreditar, mas, em muitos jornais, repórteres que fizeram coberturas difíceis voltam para trabalhar no dia seguinte como se estivessem voltando da padaria da esquina.
A prática de ouvir os repórteres tem uma dupla utilidade: contribui para reduzir a incidência da síndrome de stress pós-traumático e contribui para construir um conhecimento empírico sobre a efetividade das medidas de segurança que tenham sido adotadas pela empresa.
Infelizmente, é preciso dizer que, no Brasil, muito pouco é feito pelas empresas privadas de comunicação neste sentido. Mas isso está mudando. Acontecimentos trágicos, como o seqüestro do repórter da TV Globo Guilherme Portanova, em agosto de 2006, e, antes disso, o cruel assassinato do jornalista Tim Lopes, em 2002, forçaram algumas empresas a dedicar-se a este tema com a seriedade que o assunto exige.
Há, entretanto, algumas práticas que deveriam ser adotadas imediatamente por chefes de reportagem e editores para diminuir o risco que seus repórteres correm em zonas de conflito. Um deles é a adoção de protocolos claros para o contato entre a redação e o repórter. Horários combinados para telefonemas e palavras em código são dois artifícios simples que podem indicar em poucos segundos se o jornalista, em terreno, está em apuros ou desapareceu.
Dar a liberdade para que os repórteres escolham cobrir ou não determinada pauta perigosa é outra premissa indispensável. Durante o congresso da Abraji, uma colega jornalista disse ter sido punida com cinco dias de suspensão porque se recusou a subir até o alto de uma favela durante uma operação policial.
Mas o contrário também é verdadeiro. Há gente temerária. Frequentemente, as empresas jornalísticas fazem uso de matérias apuradas em zonas de risco por repórteres que viajam de férias, por conta própria, para, em seguida, vender o material para o jornal onde trabalham. Não é possível fazer vista grossa e deixar de dizer que esta é uma política cômoda para as empresas, que lucram com a publicidade feita em cima do material, sem assumir nenhum risco no processo de confecção da reportagem.
No terceiro e último artigo da série para o Última Instância, serão analisados alguns aspectos de saúde mental dos jornalistas em zonas de guerra e temas jurídicos vinculados ao mesmo tema.